
Negro - Indígena

Negro - Indígena

Negro - Indígena
Lugares de Memória Negro - Indígena
O Ciclo de Conversas Lugares de Memória Negro-Indígena reuniu profissionais do mundo acadêmico, artistas, estudantes, ativistas e público em geral para refletir sobre o patrimônio cultural dos povos originários e diaspóricos usurpados pela colonialidade e pelo racismo. O objetivo foi produzir subsídios teóricos e práticos para realizar um inventário de memória negro-indígena que retome, para ampliar, os resultados produzidos pelo Inventário dos Lugares de Memória do tráfico atlântico de escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil.
Desde o início se procurou elaborar um evento que enfrentasse o desafio de diversificar os olhares para o tema, trazendo não só profissionais desse campo de pesquisa, mas também as pessoas que detém as memórias em questão e intervenções que discutem a temática por meio da linguagem artística.
Programação
14/09
CORPO: PRIMEIRO LUGAR DE MEMÓRIA
14h30 – INTERVENÇÃO PERFORMÁTICA
Demarcação dos Territórios Ancestrais
15h – MESA: com Jaíra Poti, Kota Mulanji e Olinda Yawar Muniz Wanderley
Sesc Consolação
Teatro Anchieta
LUGAR DE MEMÓRIA NEGRO-INDÍGENA: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO
17h30 – INTERVENÇÃO CÊNICA
Abertura de Processo Casa de Fayola
18h – MESA: com Heloisa Pires de Lima, Eliane Potiguara e Mário Medeiros
Sesc Consolação
Teatro Anchieta
15/09
OS LUGARES DE MEMÓRIA DOS POVOS DE CULTURA ORAL
14h30 – INTERVENÇÃO MUSICAL
Aloysio Letra e Oderiê
15h – MESA: com Casé Angatú, Aline Kayapó e Mestre Lumumba dos Tambores
Sesc Consolação
Teatro Anchieta
A LIBERDADE COMO LUGAR DE MEMÓRIA
17h30 – INTERVENÇÃO CÊNICA
Uma Voz pela Liberdade
18h – MESA: com Cintia Gomes, Erica Malunguinho e Fernanda Kaingang
Sesc Consolação
Teatro Anchieta
16/09
A TRAJETÓRIA BRASILEIRA DO CONCEITO LUGAR DE MEMÓRIA
14h30 – INTERVENÇÃO AUDIOVISUAL
O Brasil Precisa ser Exorcizado
15h – MESA: com Patricia de Oliveira, Matheus Cruz e Renato Cymbalista
Centro Universitário Maria Antônia
Salão Nobre
INVENTÁRIO DOS LUGARES DE MEMÓRIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
17h30 – INTERVENÇÃO AUDIOVISUAL
Passados Presentes
18h – MESA: com Solange Barbosa, Mônica Lima e Milton Guran
Centro Universitário Maria Antônia
Salão Nobre
Lugares de Memória Negro - Indígena

Registros do evento
14/09/2022
CORPO: PRIMEIRO LUGAR DE MEMÓRIA





































INTERVENÇÃO PERFORMÁTICA
Demarcação dos Territórios Ancestrais
Em 1911, no Congresso Universal das Raças, realizado em Londres, o Estado brasileiro decretou que em 100 anos os indígenas e os negros seriam extintos da população brasileira. Que apenas através do atavismo seria possível reconhecer essas origens longínquas já apagadas. “Demarcação dos Territórios ancestrais” é uma intervenção cênica que reflete sobre como essa política de Estado age ainda hoje sobre nossos corpos. Que todo e qualquer ato de racismo praticado em nossa contemporaneidade é reflexo de um programa deliberadamente genocida financiado pela União e validado pelas mais diversas instituições. Com Jaíra Poti, Kelvin Kline Oliveira dos Santos, Paulo Augusto de Pinho Neto, Regiane Cruz Luciano, Samuel Maurício de Oliveira Wanderley, Silvana Fernandes Santos, Michael Yuri. Participação especial: Aloysio Letra e Oderiê.
Registro da Intervenção Artística
Assista à mesa na íntegra
Veja os melhores momentos
RODA DE CONVERSA
com Jaíra Poti (mediadora), Kota Mulangi, Olinda Tupinambá
Para as pessoas que têm a ancestralidade marcada pelo genocídio e a escravidão, o corpo é um território permanentemente ameaçado de extinção.
JAÍRA POTI é artivista e gestora cultural. Indígena em processo de retomada. Pós-graduada em Gestão de Conteúdo em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, e graduada em Gestão Pública pela mesma universidade. Há 22 anos é atriz profissional e produtora cultural. Diretora Geral e roteirista do projeto Rolê 22. Coordenadora Geral do Curso de Formação de Produtores Culturais – Artivistas, em execução. Organizou o 2º capítulo do livro Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo (Hucitec Editora, 2012). Co-criadora do livro “Peça para mulheres”, publicação do coletivo Atuadoras. Responde pela Direção Executiva do CPBrazil.
OLINDA TUPINAMBÁ pertence aos povos Tupinambá e Pataxó hãhãhãe. Jornalista, cineasta e ativista ambiental, já produziu e dirigiu nove obras audiovisuais independentes. Foi curadora de diversos festivais e mostras de cinema, dentre eles o Festival de Cinema Indígena Cine Kurumin 8ª edição (2020/2021) e a Mostra Lugar de Mulher é no Cinema (2021/2022). Também produziu duas mostras de cinema: Amotara – Olhares das Mulheres Indígenas (2021) e Mostra Paraguaçu de Cinema Indígena. Coordena o Projeto Kaapora e é coautora do doc/especial TV Falas da Terra, produzido pelos Estúdios Globo.
KOTA MULANGI é gaúcha de Pelotas, filha de Francisco Goulart e Maria Agostinha Barros Goulart, mãe de duas mulheres e avó de cinco homens. Médica Pediatra formada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com residência no Hospital Ernesto Dorneles, em Porto Alegre, e doutoranda em Biomedicina no Instituto Universitário Italiano de Rosário (IUNIR), na Argentina, é também uma mulher da tradição de matriz africana Bantu, ex-dirigente do Griô – Centro Pedagógico de Reterritorialização e Cidadania Negra, atuante em Pelotas e Porto Alegre.
RELATO DA DISCUSSÃO
Olinda, que fez a primeira fala, lembrou que é exigido do indígena que ele tenha traços como pele escura e cabelos lisos para ser reconhecido como tal. Ressaltou como é esse tipo de demanda é injusta, pois todo o movimento da colonização foi o de diluir os traços característicos dos povos indígenas e negros, para formar, no decorrer das gerações, uma população embranquecida ou branca, como bem discutiu a intervenção Demarcação dos Territórios Ancestrais, apresentada no início da mesa.
Olinda seguiu explicando que manter a memória do corpo indígena é primeiramente manter esse corpo, e para isso se necessita demarcação de território.
O ato de calçar sapatos, que até pouco tempo muitas vezes diferenciava quem era civilizado ou não, se torna tema de análise de Kota. Ela lembra que para os povos originários o contato do pé com o solo é uma conexão com a terra, diferente da forma como isso era interpretado pelo colonizador: inferioridade civilizatória. Olinda conta que os sapatos sempre a incomodam, e que os óculos nunca se encaixam bem no seu rosto.
Kota, que é pediatra, relata que após o parto, normalmente as mães logo querem saber a cor dos olhos dos filhos, sempre com a expectativa de que possam ser azuis, porque um ascendente distante tinha o olho claro, tamanho é o desejo que foi incutido em todos de que o branqueamento é desejável.
Kota fez uma leitura peculiar sobre os rituais de santos, em que se chama Ogum, na língua Iorubá, ou Icossi, em Banto, que ela associa ao elemento ferro, depois toda tribo da mata, associada ao nitrogênio, então vem o povo do fogo, que ela se deu conta de que representaria o carbono, e então as mulheres, sempre representando as águas, que perfazem 70% do nosso corpo. São os elementos naturais, desse corpo que é um corpo só, embora coletivo. Os rituais trazem a memória desse corpo comum.
Kota então cita Stuart Hall, que diz que, para os povos da diáspora africana, trazidos de sua terra natal completamente despojados, o corpo foi o único lugar de memória possível, e foi esse corpo o veículo do conhecimento e saber fazer trazidos da África. E então o corpo, com sua materialidade, é um veículo para as práticas imateriais.
Da mesma forma Kota ressalta que as línguas ancestrais, como o Iorubá e o Banto, patrimonializadas pela deputada estadual Érica Malunguinho, tem o corpo como veículo, e que a legisladora acerta com essa ação pois ela é uma forma de “patrimoniar” o corpo que fala.
LUGAR DE MEMÓRIA NEGRO-INDÍGENA: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO














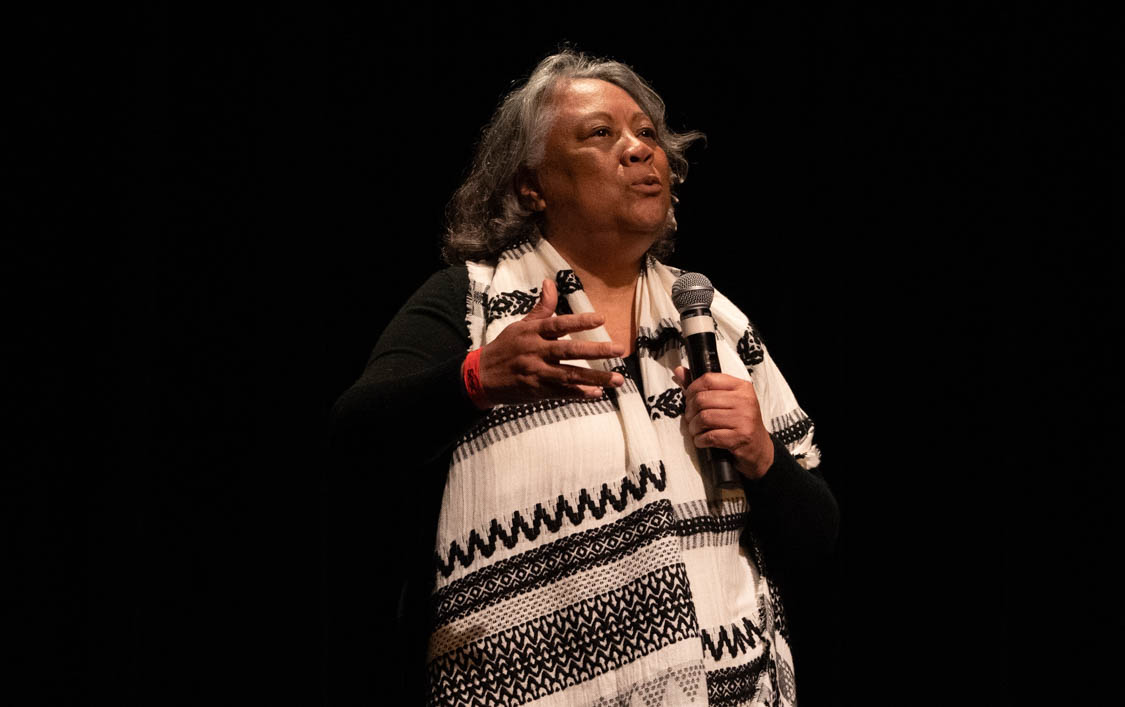













INTERVENÇÃO CÊNICA
Abertura de Processo Casa de Fayola
A dramaturgia do espetáculo “Casa de Fayola” é baseada no conto homônimo de Abílio Ferreira, publicado originalmente no 8º Caderno Negro1 (1985). O conto narra a história conflituosa de Fayola e Alexandre, um casal negro que vive na Vila Itororó. A Vila Itororó é um conjunto de casas no bairro do Bixiga, histórico bairro negro na região central de São Paulo. O Impulso Coletivo atua na vila desde 2008, tendo criado “Cidade Submersa” (2010), sua primeira peça no mesmo local junto aos moradores da Vila Itororó, que lutavam para permanecer lá. Com Jorge Peloso, Camila Andrade de Souza e Nivaldo Claudino Moreno. Equipe técnica: Alexandre Ciriaco Vianna, Alícia Santos Perez, André Rodrigues, Eunice Maria Peloso de Azevedo, Ewerton Rodrigues Valadão.
Registro da Intervenção Cênica
Assista à mesa na íntegra
Veja os melhores momentos
RODA DE CONVERSA
com Heloísa Pires de Lima (mediadora), Eliane Potiguara, Mário Medeiros e Jorge Peloso
A proposta deste simpósio, colocada em pauta já em sua abertura, é refletir sobre uma possível fronteira comum na experiência histórica dos povos originários do Brasil e da África em diáspora, sem deixar de considerar suas incontornáveis especificidades.
ELIANE POTIGUARA recebeu do governo brasileiro o título de “Cavaleiro da Ordem ao Mérito Cultural” em 2014. Foi indicada em 2005 ao Projeto Internacional “Mil Mulheres ao Prêmio Nobel da Paz”. É escritora, poeta, professora, formada em Letras (Português-Literatura) e Educação, especializada em Educação Ambiental pela UFOP. É da etnia Potiguara, brasileira, fundadora da primeira organização de mulheres indígenas GRUMIN/ Grupo Mulher-Educação Indígena (1988), e embaixadora da Paz pelo Círculo de Embaixadores da França e Suíça. Trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU em Genebra. Seu livro mais importante é “Metade cara, metade máscara”, publicado pela Global Editora (2004) e pela Grumin Edições (2019). Ganhou o Prêmio do Pen Club, da Inglaterra, e do Fundo Livre de Expressão, dos Estados Unidos. Possui vários livros infantis e textos, pensamentos e poesias em antologias nacionais e internacionais.
MARIO MEDEIROS é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp. Autor dos livros “Os escritores da guerrilha urbana: literatura de testemunho, ambivalência e transição política (1977-1984)” [2008]; “A descoberta do Insólito: literatura negra e literatura marginal no Brasil (1960-2000)” [2013]. Co-organizador das obras “Polifonias Marginais” (2015) e “Rumos do Sul: periferia e pensamento social” (2018).
HELOISA PIRES LIMA é antropóloga. Desde 1995 atua no circuito editorial como escritora, editora e pesquisadora da área. Aborda a origem continental africana, múltipla em diásporas, literariamente únicas e universais a interligar gerações de leitores. Criou e foi editora da Selo Negro Edições/Grupo Summus Editorial (2000-2002). Consultora tanto na esfera pública (MEC e SMEs) quanto privada (Canal Futura/Fundação Roberto Marinho e Editora Melhoramentos) e ONGs nacionais e internacionais. É conselheira da Casa Sueli Carneiro e ministra cursos relacionados à área editorial n’A Casa Tombada.
JORGE PELOSO é ator e diretor afro-indígena formado em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da UNESP (2006), militante do movimento negro e antirracista, de causas lgbt’s e pelos direitos humanos. Como integrante fundador do Impulso Coletivo desenvolve desde 2007 criações teatrais que convergem problematizações sobre urbanização, território, identidade racial e memória em áreas centrais, historicamente periferizadas e segregadas racialmente na cidade de São Paulo. Em 2016 fundou com Camila Andrade o Quilombo Piracema de Teatro, iniciando o processo de seu solo “Como Nadar na Vazante?” com a direção de sua amiga. Na Vila Itororó desenvolve trabalhos há 12 anos com seus grupos, gerando as peças “Cidade Submersa” e “Casa de Fayola”, nas quais dirige e atua. Dirigiu “A Real Fábula da Cidade Suspensa” na Baixada do Glicério, onde o Impulso reside há 8 anos na Paróquia Nossa Senhora da Paz, e onde atualmente desenvolve a criação do texto “Nossa Senhora das Nuvens”, de Aristides Vargas. Como artista e produtor independente desenvolve trabalhos com outras companhias e criadores na capital e região metropolitana, tendo também participado com obras em festivais e congressos na América Latina.
RELATO DA DISCUSSÃO
Heloísa começa por perguntar que conversas são possíveis entre a experiência histórica dos nativos e da história africana na diáspora, pois conhecemos muito a perspectiva de um lado, e a perspectiva de outro, separadas. “Então é preciso pensar o encontro, pois essas histórias não foram paralelas. Elas se encontraram muitas vezes, mas a gente fala muito pouco disso”.
Eliane, mulher indígena, lembra que foi amiga de Lélia Gonzales, que participou dos Cadernos Negros, que é amiga de Benedita da Silva, todas mulheres negras. Comenta que, diferente do movimento negro, o movimento indígena demorou mais pra chegar ao seu protagonismo. Mencionou o deputado federal Cacique Juruna, que foi um fenômeno, um precursor da atual Bancada do Cocar.
Heloísa conta a história de quando esteve em Belém do Pará, lugar em que imaginava que só existissem povos indígenas, mas que então ela passa a enxergar os quilombos que existiam na Amazônia, onde há uma história quilombola muito importante.
Mário relata que que ficou muito impactado em ver o conto do Abílio, Casa de Fayola, materializado em uma peça, uma vez que ele estudou os Cadernos Negros, onde o conto foi publicado. Então passa a falar como a questão da memória negra se tornou um tema tão importante hoje, mas que se precisou derramar muito sangue, queimar o Borba Gato, para que isso acontecesse. E rememorou que no Condephaat, órgão de patrimônio do Estado de São Paulo, onde trabalhou, os tombamentos ou registros de patrimônio imaterial dos negros eram exíguos. Comenta que, embora a Vila Itororó, cenário e de alguma forma tema da peça apresentada no início da mesa, é bem tombado, mas o estudo de tombamento não dá conta da disputa de memória, da presença negra ali. O estudo tem como base os aspectos arquitetônicos, da bricolagem. E aproveita para dizer que Lugar de Memória é uma discussão sobre direito narrar sua própria história, “e o que está em jogo é a disputa por ser narrado no âmbito da memória da nação”. “E isso é o que precisa ser disputado, porque memória é poder. O direito à memória é tão importante quanto o direito à vida”. “Direito da narrativa e da transmissão de experiências”.
Jorge conta que foi o movimento negro que fez com que ele se reconhecesse nessa dupla ancestralidade, negra e indígena, e que ele a encontra em seus cruzamentos, como o candomblé, a umbanda, a capoeira, onde essas matrizes se encontram para criar resistência.
Heloísa, que é uma pensadora da educação, refletiu sobre a necessidade de se mudar a narrativa de algumas experiências a partir do ponto de vista de quem as vivenciou. Como exemplo, citou a necessária mudança da narrativa do quilombo como lugar de negro fujão para a narrativa real do quilombo lugar onde se refaz a liberdade, e esse motivo os quilombos não devem ser associados apenas à escravidão.
Heloísa também pontua que algumas narrativas ganham peso tão grande que podem nos tornar impotentes, e que é preciso lembrar das narrativas de vitórias, que passam pela espiritualidade, pelo afetivo, pelo jeito de ser.
Waldemar Azevedo, que é pai do Jorge, e estava na plateia, trouxe importante contribuição para a história comum negro-indígena. No Grão-Pará, de 1835 a 1940 “nós fizemos a Revolta da Cabanagem, aliança negra, indígena e de ribeirinhos, que derrotou duas vezes o Império Português. E para finalmente derrotar a resistência, o portugueses chamaram mercenários ingleses que mataram 60% dos homens do Grão-Pará acima dos 16 anos, numa demonstração da história genocida do nosso país”.
Eliane faz em certo momento uma espécie de confissão, de que existe certo receio de que a questão negra se sobreponha à indígena, por ser uma história mais conhecida, com movimento mais forte. E que ela ouviu isso de muitas lideranças, que a história do movimento negro é diferente da indígena, e que muitas lideranças não têm interesse em construir esse diálogo por terem problemas diferentes, e citou como exemplo a questão de demarcação de terras ser central para os indígenas, enquanto que para o negros essa é uma questão restrita aos quilombolas.
15/09/2022
OS LUGARES DE MEMÓRIA DOS POVOS DE CULTURA ORAL




































INTERVENÇÃO MUSICAL
Aloysio Letra e Oderiê
Levante sensível das musicalidades, memórias e ancestralidades de pessoas origináries e negras. Oderiê, cantore, artista multimídia, não-binárie funde sua new soul e música indígena contemporânea às interpretações sensíveis e ancestralidades afro-brasileiras de Aloysio Letra, que acalanta com sua MPB sambada e temperada. Um encontro sonoro e de oralidades contra-hegemônicas de Rio Grande do Sul e São Paulo, territórios que quiseram apagar pessoas não-brankkas e falharam, assim como falhou todo projeto da branquitude colonial “brasileira”. Dois artistes que cantam e performam denúncias anti-coloniais, anti-transfóbicas e antirracistas, que afirmam as poéticas presenças e as potências de povos origináries e negres, rumo a novas manhãs possíveis e potentes para todes. Com Aloysio Letra e Oderiê.
Registro da Intervenção Musical
Assista à mesa na íntegra
Veja os melhores momentos
RODA DE CONVERSA
com Mestre Lumumba dos Tambores, Oderiê, Aline Kaiapó, Casé Angatú e Aloysio Letra
Como os povos de cultura oral ritualizam a memória? O debate pretende explorar as possibilidades de identificação, proteção e valorização de lugares de memória desses povos no contexto brasileiro.
CASÉ ANGATÚ é indígena Morador Território Tupinambá Olivença (Ilhéus/BA), docente na Universidade Estadual Santa Cruz-UESC (Ilhéus/BA) e na Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico Raciais – Universidade Federal Sul Bahia-PPGER/UFSB. É Pós-Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UNESP/Assis, Doutor pela FAU-USP, Mestre pela PUC-SP, Historiador pela UNESP. Autor de vários livros, entre eles “Nem Tudo Era Italiano – São Paulo e Pobreza – Séculos XIX – XX”.
MESTRE LUMUMBA DOS TAMBORES participou da organização do sindicato dos metalúrgicos na década de 1960 e dos movimentos negros da década de 70, entre eles o Movimento Negro Unificado (MNU) e movimentos artísticos negros. É onilu – recuperador da arte de fazer tambores rituais – e educador em arte e cultura afro-ameríndia. Reflorestador da mata atlântica na cidade de São Luiz do Paraitinga, onde vive há 40 anos, define-se como um “eterno aprendiz no culto dos antepassados”
ALINE KAYAPÓ pertencente aos povos Mebengokré Aymara-Peru e Tupinambá da Terra Indígena de Uruitá, é mãe de Yupanki Bepriabati. Escritora, ilustradora, ceramista, batedora de açaí, artista plástica, pesquisadora e empreendedora, é ativista do Movimento Indígena Nacional e uma das fundadoras do Movimento Plurinacional Wayrakuna, uma rede ancestral artístico-filosófica de reflexão sobre a resistência das mulheres indígenas no Brasil e no mundo. É membra do conselho editorial da Grumin, da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP e do Parlamento Indígena do Brasil. Vice-presidenta da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, é graduanda em Direito pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (UNIFTC), com unidades localizadas no estado da Bahia.
ALOYSIO LETRA é cantor e compositor da periferia da zona Leste. Compõe canções singulares e interpretações sensíveis das ancestralidades afro-brasileiras, numa MPB sambada e temperada, resultante de sua trajetória cantando em bares, saraus e de sua passagem por diversos grupos de São Paulo, entre eles Baque Bolado, Balé Popular Cordão da Terra, Grupo Cangarussú, Abaçaí – Balé Folclórico do Estado de São Paulo e Bloco Afroafirmativo Ilú Inã. Atualmente em produção de seu primeiro EP “Depois”.
ODERIÊ CHAYUÁ é indígena chayúa, cantore, produtore musical, artista multimídia não-binárie, que através de vários gêneros, como New Soul e da Música Indígena Contemporânea e eletrônica, ativa sua cultura e ancestralidade no presente, para além do imaginário sobre o que é ser uma pessoa indígena e em contexto urbano.
RELATO DA DISCUSSÃO
Casé lembrou a todos que, para os indígenas, o Brasil se chamava Pindorama, e São Paulo, Piratininga. E que estávamos no Teatro José de Anchieta. Então usou uma licença poética para dizer que, naquela noite, aquele teatro se chamava Cunhambebe, Aimberê e Koakira, guerreiros que lutaram pela liberdade liderando a Confederação dos Tamuya, ou dos Tamoios, relatada pelo próprio José de Anchieta.
O mestre Lumumba do Tambores abriu a conversa argumentando que todos os povos são de cultura oral, todos os povos formulam ideias pela oralidade, e que compõe a estratégia de poder colonizadora a noção de que há povos de cultura escrita, e que esses são superiores. Como exemplo que cabe bem para discutir a questão da educação na contemporaneidade, lembrou que para alguém se tornar engenheiro ou médico, não basta que essa pessoa vá a uma biblioteca, leia livros e saia projetando, ou fazendo cirurgias. Que o mestre, ou professor, é o mediador necessário e indispensável desses saberes.
“Tava no meio da mata, tava no meio da mata. Pra que mandou me chamar? Eu vim foi beber giroba, eu vim foi beber giroba, balançar meu maracá. Reia, Reia, Reia, Reia […]. Maré encheu, tornou vazar, de longe muito longe eu avistei-a lá. Minha palhoça, coberta de sapé, meu arco minha flecha, minha cabaça de mé. Eu moro na mata, mas ando pela chapada. Oooo, rameia, meus índio, na chapada, o rameia, meus índio, na chapada” cantou Casé. Ele explicou que essas canções são ponto comum entre as culturas negras e indígenas, pois se cantam na aldeia dele, na Bahia, e se cantam nos terreiros de candomblé e umbanda.
Aline trouxe, assim como trouxeram as falas de Heloísa de Eliane Potiguara, da segunda mesa, a necessidade da superação de certas narrativas: “Eu não me admiro em nada e não me causa espanto, dor ou angústia ouvir sobre racismo estrutural. Não sei se eu já estou com o couro duro ou meu casco bastante calejado, mas isso pra mim não faz nenhuma diferença. Então avante, vai indo, vai indo, porque se você olha para trás e fica falando poxa, eu fui podado…
Então você está em que mundo? Porque o mundo originário é o da resistência, desde 1500, ou antes. Mas a questão é essa: como nós vamos nos portar como seres ancestrais, possuidores de um orgulho, de um pertencimento, que não vai ficar olhando pra trás e lambendo nossas feridas, mas que vai pra frente, vai pra frente. Cadê tua andiroba? Passa no teu couro e vai embora.”
Aline colocou a ideia de que, quando se fala em memória, há que se lembrar que se luta em um campo epistemológico extremamente racista. Lembrando também que existe, no campo do conhecimento, outras dimensões, para além da trazida pela Revolução Francesa e o Iluminismo. Princípios como coletividade, ancestralidade, diversidade, pluralidade, necessários para que a academia possa enxergar a produção indígena na ciência. A pesquisadora considera que o saber indígena não é ciência, embora racional e metódico, e que precisa ser observada e pode se tornar ciência. Mas essa metodologia, racional, não “reza na cartilha do Eurocentrismo”.
Nesse pensamento, Aline é acompanhada por Oderiê, que também reafirma que cada povo tem uma forma de organização, de transmitir o saber, sem ser a ciência “que o branco projetou”, embora seja uma tecnologia indígena. Fala da importância das histórias transmitidas pelos pais, avós, e os que vieram antes, e que hoje lhe cabe a missão de “juntar os rastros” e seguir o próprio caminho a partir desses saberes.
Por fim Aline trouxe a questão de que alguns indígenas se preocupam com esse duplo pertencimento, negro e indígena, e antes já havia falado que os de pele retinta se ressentem de ser identificados como negros, pois culturalmente não se veem dessa forma, por não terem contato com sua ancestralidade negra. Mas que isso precisa ser superado, apesar de ser compreensível para povos que se encontram em resistência ter esse ponto sensível.
A LIBERDADE COMO LUGAR DE MEMÓRIA





































INTERVENÇÃO CÊNICA
Uma Voz pela Liberdade
O espetáculo “Luiz Gama – Uma Voz pela Liberdade” é uma biografia dramatizada sobre vida e obra de Luiz Gama, um homem brasileiro, negro, do século XIX, filho de Luiza Mahin (figura feminina histórica da luta abolicionista no Brasil). Na função de rábula, ele conquista sua carta de alforria e liberta gratuitamente mais de 500 escravizados, baseado na Lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. É considerado também a primeira voz negra da literatura brasileira. Gama, em homenagens póstumas, foi oficialmente reconhecido como advogado pela OAB em 2015, e em 2018 foi nomeado por leis federais como o Patrono do Abolicionismo Brasileiro e inscrito no Livro dos Heróis da Pátria. O espetáculo, além de contar a vida desse brasileiro que foi intencionalmente apagado de nossa História, compara a situação dos negros na época à de hoje, demonstrando que a verdadeira Abolição da Escravidão ainda não foi totalmente implementada. Carlos Eduardo Maia de Oliveira dos Santos e Soraia de Melo Alves. Equipe técnica: Antonio Tostes Baêta Vieira, Ricardo Torres, Alexandre Ciriaco Vianna, Alícia Santos Perez.
Registro da Intervenção Cênica
Assista à mesa na íntegra
Veja os melhores momentos
RODA DE CONVERSA
com Cinthia Gomes (mediadora), Erica Malunguinho, Fernanda Kaingáng
Se os lugares de memória podem ser, conforme o criador desse conceito, Pierre Nora, “imediatamente oferecidos à mais sensível experiência e, ao mesmo tempo”, sobressair “da mais abstrata elaboração”, pode a ideia de liberdade ser assim considerada?
CINTHIA GOMES é jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, com pesquisa sobre representação e autoria negra na imprensa do século século XIX, a partir da obra de Luiz Gama. Como repórter, trabalhou nas redações das rádios Eldorado, Estadão e CBN. Ativista dos movimentos negro e LGBTQIA+, integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (COJIRA), a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, o Movimento Saracura Vai-Vai e é chefe de gabinete da vereadora Erika Hilton, agora deputada federal eleita em 2022.
FERNANDA KAINGÁNG pertence ao povo Kaingáng do Sul do Brasil. Advogada e ambientalista, mestre em Direito Público pela UnB e doutoranda em Arqueologia pela Universidade de Leiden, na Holanda, atua há 22 anos pelos direitos humanos dos povos indígenas. Foi assessora da Presidência da Funai e é integrante-fundadora do Instituto Kaingáng (Inka) e do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual (Inbrapi). É especialista de povos indígenas pela América Latina na proteção de patrimônio cultural, material e imaterial, perante diferentes órgãos das Nações Unidas.
ERICA MALUNGUINHO é artista e professora, mestra em Estética e História da Arte pela USP, embaixadora do Museu de Arte Negra (MAN), idealizado por Abdias Nascimento. Primeira deputada trans eleita no Brasil em 2018, com mais de 55 mil votos no estado de São Paulo, é membra da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão do Conselho de Ética, e procuradora da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). Antes de adentrar a política institucional, era mais conhecida por ter parido, na região central paulistana, um quilombo urbano de nome Aparelha Luzia, território de circulação de artes, culturas e políticas pretas, visível também como instalação estético-política, zona de afetividade e bioma das inteligências negras.
SORAIA ARNONI é atriz formada pela Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna, licenciada em teatro pela UNIRIO, com bacharelado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Compõe o elenco do espetáculo “Luiz Gama, uma voz pela liberdade”. Em 2019, dirigiu e atuou no espetáculo lírico “Guerreiras” e atuou no “Duo Convida: Ouviram do Ipiranga”, ambos do Duo Pretas. Participou de diversos festivais de teatro, como o FITUM (na Tunísia). Integrou o elenco do curta-metragem “Os Olhos de Cecília” (2015) que esteve na Short Film Corner de Cannes e ganhou melhor filme na mostra Cinema da Gema do 10º Festival Visões Periféricas (2016). Também atuou e compôs a equipe de roteiro de “Uma História das Cores” (2018), eleito melhor filme da mostra Cinema da Gema do 12º Festival Visões Periféricas (2018) e do 12º Festival do Cinema Brasileiro, Circuito Penedo (2019). Seu mais novo trabalho como atriz e co-roteirista é o curta “Medo da Chuva em Noite de Frio” (2020), que estreou recentemente no festival Curta Cinema e é semifinalista no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.
RELATO DA DISCUSSÃO
A mediadora, Cíntia Gomes, abriu a mesa comentando que o conceito de Liberdade adquire diversos significados para diferentes sujeitos e nos diferentes tempos históricos. Considerando o tempo de Luís Gama, por exemplo, para o negro a negação da liberdade pela escravidão também queria dizer a usurpação da humanidade da pessoa. “A gente era peça, uma coisa que era vendida, traficada, herdada, que se passava de uma pessoa para outra como se fosse um imóvel, um bem”. Mas liberdade para uma pessoa branca tinha outros significados. Por exemplo liberdade para comercializar, produzir, ficar mais rico livremente, sem influência da Coroa Portuguesa.
Antes de passar a palavra a Erica Malunguinho, Cíntia, que é jornalista e estudiosa da atuação de Luís Gama, explicou que Gama trabalhou usando o jornalismo e o direito para defender o que se chamava na época “causa de liberdade”, que era a defesa das pessoas ilegalmente escravizadas. E ele percebeu que apenas lutar para que a escravidão se tornasse ilegal não seria suficiente, pois havia um imaginário social de que as pessoas negras não eram humanas, ou eram menos humanas. Então ele empreendeu essas lutas também pela imprensa.
Erica Malunguinho, logo no início de sua fala, buscou um entendimento do que é Liberdade, que para ela se constitui em ter liberdade de escolha. Cita a Nação Palmares, que ela vê como “registro objetivo” de luta pela emancipação. Então a próprio escolha, num contexto de opressão, de não estar oprimido, submetido à escravidão, fez surgir uma nação, diz: “olha o que a Liberdade é capaz de fazer; ela é capaz de criar coisas como um advogado autodidata, uma nação quilombola, que é o primeiro projeto de nação pós-intervenção europeia neste território”, onde estavam presentes não só negros, mas indígenas também. E embora a abolição esteja inconclusa, o sentimento e memória de liberdade permanecem, diz Érica, que também pontua que a memória é o resultado de uma equação onde entram como variáveis tanto a lembrança como o esquecimento. E isso explica o surgimento de Luís Gama, de Marieles, de Luizas Mahins, Ganga Zumbas, Aqualtunes.
Fernanda começa então sua fala, estabelecendo que ela discorda, como jurista, de que os povos indígenas foram invisibilizados, mas que foram, sim, negados, pois invisibilidade exclui culpabilidade. “Fomos negados como seres humanos. O nosso território foi negado em função disso. Disseram que eram ‘res nullius’, terras de ninguém. E os territórios indígenas foram liberados para a exploração à custa da matança de quatro milhões de pessoas, o maior crime de lesa humanidade de que se tem notícia, e isso não é contado nos livros de história […]
Essa é a memória da qual não falamos. A memória de que houve orçamento governamental para financiar o aprisionamento, a escravização e a morte de pessoas”.
Traçando um panorama da situação indígena, Fernanda explica que até 1910 a liberdade foi formalmente negada. Com os escândalos de genocídio, a comunidade internacional pressionou o Brasil e se criou, em 1910, um serviço que confinou “os remanescentes de um massacre”. Se criaram as reservas, terras do governo onde os indígenas seriam tutelados, em uma liberdade vigiada, na expectativa de que se integrassem “à comunhão nacional” e que desaparecessem pela assimilação ao restante da população. Na Ditadura Militar, os povos indígenas se levantaram para denunciar os horrores sofridos no passado e no presente, diz Fernanda. E depois, se criou uma Comissão Nacional da Verdade, que esqueceu de falar dos indígenas. “Que memória é essa? Então a negação permanece.”
Fernanda menciona seu trabalho de mais de 20 anos com patrimônio e memória, para lembrar que se nega aos indígenas o direito de serem titulares daquilo que criam: grafismos, cantos, rezas. E Fernanda também menciona Belo Monte, e diz que foi neste ano ao Fórum Social Mundial para cobrar a presidente Dilma Roussef sobre o absurdo que foi inundar lugares sagrados, violando direitos de consulta.
Com a palavra, Soraia contou que só ouviu falar de Luís Gama em 2015 em seu trabalho para a peça “Luís Gama: uma voz pela Liberdade”, apresentada em forma reduzida no início da mesa. Embora fosse estudante de história da UFF, embora fosse ligada ao movimento negro. “Por que essas histórias não são contadas? Porque quando a gente sabe quem a gente é, de onde a gente vem, qual é a nossa história, fica muito difícil a gente viver o aprisionamento dos rótulos que nos impõem.”
Érica diz que é preciso mirar na liberdade e lembra que, assim como o quilombo, o maracatu é uma prática de liberdade, onde se coroa a rainha do Congo, assim como o candomblé, que sistematiza diversas religiões. Diz que para ela, não se trata de esquecer o momento que não se teve a liberdade, mas de projetá-la, de pensar o que se pode fazer quando não se precisa pensar em racismo. “Eu sinto, principalmente nesse lugar em que a gente entende a violência sistêmica, que a gente se encerra nesse lugar, e o exercício da Liberdade não acontece […] Essa problematização é paralisante”.
16/09/2022
A TRAJETÓRIA BRASILEIRA DO CONCEITO LUGAR DE MEMÓRIA






















INTERVENÇÃO AUDIOVISUAL
O Brasil Precisa ser Exorcizado
O Brasil precisa ser exorcizado é um vídeo-manifesto indígena que discute a necessidade de ações contra-coloniais para valorizar a memória dos povos originários, desmistificando a história contada pelos colonizadores, bandeirantes, missionários e historiadores. A poesia é de autoria da anciã Yakuy Tupinambá, idealizadora da Primeira Escola Filosófica Originária, Útero Amotara Zabelê, instituição responsável pela produção do manifesto. Com participação da multiartista Katu, as imagens foram gravadas no Território Tupinambá de Olivença na Bahia e no Centro de São Paulo, sob a direção de Mirrah e RafaEu DumDum.
Registro da Intervenção Audiovisual
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Útero Amotara Zabelê/ COSMOPERCEPÇÃO: Yakuy Tupinambá/ DIREÇÃO: Mirrah(BA) e RafaEu DumDum (SP)/ FOTOGRAFIA: Mirrah(BA) e João Prehto(SP)/ LASER/PROJEÇÕES: Diogo Terra (SP)/ PRODUÇÃO (SP/BA): Zabelês/Tupinambá de Olivença, Cia Mangará, Etun e Dubdem/ MONTAGEM/EDIÇÃO: Luigi Parisi/ EQUIPE BAHIA: Bruna Amado (assistente de direção e produção), Marilua Azevedo (assistente de câmera), Nai e Ally (assistentes de produção)/ ZABELÊ: Potyratê Tupinambá, Bacurau Tupinambá, Cacique Valdelice Tupinambá, Taquari Tupinambá, Mirian Tupinambá, Pico de Jaca (Seu Gringo) Tupinambá, Gelly Tupinambá, Jaciara Tupinambá, Nica Tupinambá, Nadão Tupinambá, Jamilly Tupinambá, Guilherme Tupinambá, Henzo Tupinambá, Innara Tupinambá, Tainara Tupinambá, Felipe Tupinambá, Uyra Xahã Tupinambá, Gabriel Tupinambá, Yarlei Tupinambá, Lorrane Tupinambá, Kawana Tupinambá, Aysllane Tupinambá, Taygwara Tupinambá, José Tupinambá/ AGRADECIMENTOS/APOIO: Renata Tupinambá, Ma Devi Murti, Flora Dias, Analu Tortella, Fernanda Ligabue, André Lira, Romina Lindemann, Flavia de Oliveira, Otoniel (Dui), Paulo Cesar Falange/ Marina
Assista à mesa na íntegra
Veja os melhores momentos
RODA DE CONVERSA
com Patrícia Oliveira (mediadora), Renato Cymbalista, Matheus Cruz
Desde 1984, quando a obra Les Lieux de Mémóire colocou em evidência, sob a coordenação de Pierre Nora, a partir da França, o conceito de “Lugares de Memória”, houve releituras no interior do mundo acadêmico. Como tem se dado essa experiência no Brasil?
RENATO CYMBALISTA é professor livre docente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAU-USP. Diretor de Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, coordenador do grupo de pesquisa Lugares de Memória e Consciência, integrante do Conselho de Orientação Artística da Pinacoteca do Estado de São Paulo, e da diretoria da Associação pela Propriedade Comunitária (FICA), é também editor do Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo
PATRÍCIA DE OLIVEIRA é mestre em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Federal do ABC (UFABC), com pesquisa no campo dos Lugares de Memória e Consciência, abordando temas como lugares de memória traumática, potencial educativo dos lugares de memória e a memória pública sobre a escravidão, atuando na construção de jornadas de conhecimento sobre a memória. É integrante do programa de bolsas de estudo da Chancelaria Alemã para os Líderes do Amanhã da Fundação Alexander von Humboldt, trabalhando com sites de memória e consciência e suas bibliotecas e coleções.
MATHEUS CRUZ possui graduação em Museologia pela Universidade Federal de Pelotas (2010) e mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural (2014) pela mesma universidade. Atualmente é doutorando no Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desenvolve pesquisa relativa à extensão universitária em museus. É museólogo da Universidade Federal de Pelotas, atuando desde 2012 no Museu do Doce. Tem experiência com extensão universitária e se interessa principalmente pelos seguintes temas: museu, museologia, patrimônio, memória, identidade, extensão universitária, sociologia das ciências e tecnologias.
RELATO DE DISCUSSÃO
A mediadora da mesa, Patrícia Oliveira, na introdução do tema, levantou um interessante dado obtido em uma busca rápida na plataforma do CNPq, órgão federal de fomento à pesquisa: há 6.895 pesquisadores discutindo lugares de memória no Brasil. Como síntese para abrir a discussão, Patrícia traz um trecho de texto escrito por Pierre Nora, que cunhou o termo: “os lugares são restos, os rituais de uma sociedade que já não tem rituais, onde tudo se homogeneiza, os lugares onde a memória se refugia, justamente por não existir mais, por ter sido substituída pela história.”
O conceito surgiu em 1983, lembra Patrícia, cunhado por Pierre Nora, e desde então virou uma locução do vocabulário comum, tendo escapado de seu autor, que já criticou usos abusivos do termo.
Renato disse acreditar que Pierre Nora, apesar de ter cunhado o termo lugares de memória, é pouco relevante para pensar a memória no Brasil, porque seu foco não é a cidade, e talvez nem tanto os lugares, mas a teoria, que é uma característica forte na academia francesa. E Nora estava preocupado com o estado nacional francês, na manutenção de seus valores, enquanto no Brasil estamos com maior foco em uma certa desconstrução de valores impostos.
Renato discute então o fato de os lugares de memória serem muito eficazes porque se constituem em experiências que podem ser vividas e apreendidas, diferentes de uma aula ou um Power Point, eventos dos quais, comparativamente, retemos muito pouco.
Voltando à questão de Nora, Renato lembra que contemporaneamente, no Brasil, Argentina e em outros lugares, a perspectiva que se tem usado é a dos lugares que não se devem esquecer, que é trabalhada pela Coalizão Internacional do Sítios de Consciência.
Renato também lembrou que é importante trabalhar não só na perspectiva da denúncia, mas também na perspectiva das conquistas, sem medo de parecer despolitizado. E isso é importante porque às vezes as conquistas que ocorrem por meio de muito trabalho e muita luta podem acabar invisibilizadas.
Renato acredita que houve uma desconstrução da figura do bandeirante pela academia nos anos 1980, que foi depois usada como ferramenta pelos movimentos sociais, que refinaram diversos aspectos de suas manifestações, com ganhos de autoridade, de narrativa, estéticos. O incêndio da estátua do Borba Gato antes não chegaria a uma capa de jornal, nem seria tratado como qualquer relevância para além de mero vandalismo.
Mas há também conquistas do Estado que precisam ser celebradas. E ele lembra da conquista do nome social post-mortem em lápides de pessoas trans. Lembra da Jornada do Patrimônio e do programa de placas azuis do Inventário Memória Paulistana, ambas políticas municipais em que é a sociedade, e não mais o Estado, que diz o que é memória e patrimônio cultural.
E, ao pensar nas fronteiras, fala sobre a necessidade de olhar para o todo, de se fazer algo como um plano diretor dos monumentos da cidade, que remova os intoleráveis e sinalize os problemáticos.
Matheus Cruz começa sua fala pela virada antropológica das disciplinas das humanas, especialmente a história, nos anos 1970, num contexto de muitas revoltas que ocorriam no mundo. Momento em que se passa a pensar, no âmbito da história, no ponto de vista dos vencidos, daqueles cuja experiência ficou esquecida nas narrativas.
Matheus lembra do conceito de Pierre Nora, de que os lugares de memória são os lugares onde a memória é cristalizada em nossa sociedade, já que somos sociedades dominadas pela história, onde a memória já não exerce um papel tão central. E ele propõe uma hipótese: a de que seria possível que os lugares de memória se transformassem em “meios de memória”.
“Essa reconexão, dentro do meu entendimento, dentro da minha experiência inclusive, ela vai acontecer quando a gente começar a perceber que as lógicas de conhecimentos daqueles que até agora há pouco a gente se dispunha a representar precisam ser consideradas inclusive para a técnicas museológicas.”
Matheus fala de exemplos de novas visões sobre a museologia que foram possíveis a partir da entrada de estudantes negros e indígenas em cursos universitários. E que agora formados, esses profissionais estão trazendo novas epistemologias. Citou o caso de uma colega museóloga e Ialorixá, que trouxe para o Museu da Baronesa, em Pelotas (RS), que ela dirige, a ideia de que os sopapos (espécie de tambores) ali expostos deveriam poder ser tocados, porque só assim se poderia compreender como eles funcionam. E que isso só pode ocorrer porque ela se formou como museóloga.
Jorge Peloso, do grupo teatral Impulso Coletivo, fez uma fala sobre a desapropriação da Vila Itororó, onde 80 famílias construíram lá sua vida por gerações, local em que viviam um cotidiano “meio de memória”, onde as famílias viviam diariamente sua cultura, seus modos de morar e de ser, sua luta. Uma vila que estava para ser desapropriada desde os anos 70, na Ditadura Militar, para ser transformada em centro cultural, e que é desapropriada em plena gestão de um partido de esquerda, a gestão Haddad. Ele pergunta como usar a cultura para que não ocorram mais episódios como esse, com tudo que envolvem em termos de manipulação de narrativas: “Técnicas de abuso simbólico, de esgarçamento do nosso tecido social”, usando a desculpa do patrimônio, do cuidado com a vida das pessoas, que tinham direito a usucapião legal? Como superamos juntos essas divergências e encontramos possibilidades de avançar juntos?”
INVENTÁRIO DOS LUGARES DE MEMÓRIA DO TRÁFICO ATLÂNTICO
















INTERVENÇÃO AUDIOVISUAL
Passados Presentes - Fragmentos
O mini-doc de 22 minutos apresenta um projeto de turismo de memória sobre o tráfico negreiro e a escravidão no Brasil que teve como base o Inventário de Lugares de Memória do Tráfico Atlântico. Os pontos de visitação foram indicados pelas próprias pessoas moradoras dos locais. Acessado por meio de um aplicativo para celular, o conteúdo do projeto abrange os quilombos do Bracuí, em Angra dos Reis, e de São José, em Valença, além do jongo da cidade de Pinheiral e o Cais do Valongo. Depoimento: Hebe Mattos. Captação e Edição Cinebecos. Fragmentos do documentário Passados Presente: realização – Passados Presentes; apoio: Faperj; patrocínio: Petrobras, Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro e Governo Federal.
Registro da Intervenção Audiovisual
Assista à mesa na íntegra
Veja os melhores momentos
RODA DE CONVERSA
com Solange Barbosa, Mônica Lima e Milton Guran
Em 2013, a Universidade Federal Fluminense e a UNESCO abriram o precedente, realizando o inventário que identificou 100 lugares de memória do tráfico atlântico no Brasil. Passados oito anos, o que se pode acrescentar a essa experiência?
MÔNICA LIMA é professora de História da África e coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos do Instituto de História da UFRJ. Participou, na qualidade de historiadora, do grupo de trabalho que redigiu o dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade. Publicou recentemente artigos sobre essa experiência, em livros e revistas acadêmicas. Coordena pesquisa sobre lugares de memória do tráfico atlântico de africanos escravizados no Rio de Janeiro.
SOLANGE BARBOSA é historiadora, atuou como Consultora da UNESCO para o Programa Rota do Escravo – especialista Brasil e América do Sul. É CEO da Rota da Liberdade, programa cultural e turístico de mapeamento da diáspora africana no Estado de São Paulo. É ganhadora do Desafio de Turismo Sustentável da CTG/Ashoka em 2021. Especialista em Afroturismo e Turismo de Base Comunitária, foi eleita em 2021 uma das cem personalidades mais importantes do Turismo Brasileiro pelo Portal Pan Rotas. Também foi eleita uma das quarenta pessoas mais importantes para o Turismo Sustentável pela Global Shakers. Atualmente é diretora de Planejamento, Gestão e Turismo da cidade de Paraibuna.
MILTON GURAN é antropólogo e fotógrafo, doutor em Antropologia (EHESS, França, 1996), com pós-doutorado na USP (2004-2004), e mestre em Comunicação Social (UnB, 1991). É pesquisador do LABHOI – Laboratório de História Oral e Imagem da UFF. Especialista em cultura da Diáspora Africana, desenvolve pesquisas na África Ocidental desde 1994, foi membro do Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo da UNESCO de 2011 a 2019. Como consultor da UNESCO e do IPHAN, coordenou o grupo de trabalho responsável pelo dossiê de candidatura do Sítio Arqueológico Cais do Valongo a Patrimônio Mundial, título obtido em 2017. Como consultor da UNESCO e da Prefeitura Municipal de Campinas, elaborou e coordenou o projeto Campinas Afro (2021).”
RELATO DA DISCUSSÃO
A mediadora da mesa, Solange Barbosa, que desde 2006 coordena a Rota da Liberdade, um programa cultural e turístico de mapeamento da diáspora africana na região metropolitana do Vale do Paraíba, abriu a mesa lembrando que o mapeamento e desenvolvimento dos sítios de memória é um trabalho contínuo, trabalho que o Instituto Tebas está chamando para si na Liberdade, Capela dos Aflitos e todo o entorno.
Em seguida, o primeiro convidado, Milton Guran, afirma que considera de “suma importância essa aproximação negro-indígena”. “O Brasil como nacionalidade é construído pela exploração, pela opressão”, e isso só é possível pelo apagamento. Para ele, o traço comum na trajetória dos povos negros e indígenas é a luta pela superação do apagamento.
Sobre os lugares de memória, Milton fala que são fundamentais por serem um indicativo de pertencimento. “Funciona para a pessoa achar seu lugar no mundo”, é como uma “palavra-chave”. E, como remete ao vivido, remete à força ancestralidade.
Milton falou então sobre o método do inventário de lugares de memória tema da mesa, e afirmou que é importante primeiro estabelecer uma classificação para poder intervir e estabelecer memória. As categoria usadas no inventário da Unesco foram: Portos de chegada, locais de quarentena e de venda; Desembarque ilegal; Casas e terreiros de candomblé; Igrejas e irmandades; Trabalho e cotidiano; Revoltas e quilombos e; Patrimônio imaterial, sendo o último categoria-chave para se pensar a memória dos povos da diáspora africana, pois a cultura afro-brasileira é espiritual, enquanto o foco da preservação de patrimônio tem sido, no Brasil, e no ocidente como um todo, a pedra e cal, a materialidade.
A ideia do levantamento foi a de que ele pudesse ser um modelo para ser replicado, diz Milton. Não de forma idêntica, mas para ser usado em outro lugares e adaptado, como o projeto que Milton acabou coordenando depois em Campinas, que surgiu quando uma empresa foi multada por crime ambiental e o termo de ajuste de conduta foi a realização de um inventário da memória da diáspora africana, cuja verba ficou vinculada à Unesco para ser aplicada apenas nesse projeto. Entre os profissionais e serviços contratados, estiveram cinco pesquisadores, cinco documentaristas, pesquisa de imagem, pesquisa bibliográfica, uma coordenadora científica, com equipe montado com pessoas residentes da localidade, como era exigência da prefeitura, e com preferência para pessoas negras. O trabalho durou dois anos.
Milton relatou que nesse projeto específico se foi mais adiante na questão do lugar de memória. No anterior, o Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico, se estabeleceu um crivo acadêmico, foram os produtores de conhecimento, os pesquisadores profissionais, que estabeleceram os lugares de memória a partir de estudos e discussões produzidas na academia e sociedade civil.
Mas, que no projeto de Campinas, foi criada uma arena de discussão, o Conselho Consultivo, e trinta pessoas reconhecidas da municipalidade foram chamadas para compô-lo e indicar os lugares de memória relevantes. Cada pessoa traria três lugares, e depois todos votariam para selecionar os 20 mais representativos. Mas lembrou que esse tipo de conselho reflete as correlações de forças locais, sendo às vezes mais progressiva, às vezes mais conservadora, às vezes mais sensata ou menos sensata. E ocorre de eventualmente selecionarem lugares de memória não tão representativos.
Mônica Lima, com a palavra, lembrou que uma das forças propulsoras do Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico foi a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade, e que o Cais está incluído no inventário da Unesco. E que seu entorno, cujo nome técnico é área de amortecimento, é muito importante para dar significado ao lugar. No caso do Valongo, o entorno contém o Cemitério dos Pretos Novos e o Quilombo da Pedra do Sal, lugar festivo, onde depois se reuniram os primeiros sambistas. E que hoje já foi reconhecido com tal, mas que luta contra forças poderosas, como a Ordem Terceira da Penitência, da Igreja Católica, que é dona de terrenos e casas ali.
Mônica fala então da importância de vivenciar presencialmente aquele lugar e perceber que a dor era um conceito chave para compreendê-lo, o que a levou a qualificá-lo como sítio de memória sensível, o primeiro do Brasil. Para isso contribuíram as discussões já existentes sobre os lugares de memória do Holocausto e da Ditadura Militar, mas também uma percepção sensível nas escuta dos relatos de moradores e pessoas envolvidas com o patrimônio na região. Momento em que ficaram sabendo, por exemplo, que na década de 1820, logo no pós-Independência, quando o tráfico de africanos foi intensificado, até 30% dos desembarcados eram crianças, pois os senhores de escravos sabiam que a escravidão poderia não durar muito e assim achavam que teriam mais retorno financeiro na compra de “propriedades” mais jovens. “Como não sentir essa dor?”
“E muitos dizem que ninguém mais se lembrava do Valongo até ele ser desenterrado pela prefeitura”. Então Mônica estabelece que essa percepção é errada porque, por exemplo, a escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, em 1976, saiu com um enredo que mencionava o Cais do Valongo.
Fechando a exposição da mesa, Solange apontou que a fala de Mônica Lima reforça a importância dos lugares de memória não como locais do passado, mas sim como lugares vivos que, a cada busca, a cada memória, “nos levam para um grande e revolto mar e para novas histórias”.
Produção Executiva e Apresentação
ABILIO FERREIRA integrou o grupo Quilombhoje Literatura de 1984 a 1990, tendo também participado de sete dos 44 volumes da antologia anual Cadernos Negros. Autor de Fogo do olhar (1989) e Antes do carnaval (1995), está entre os escritores cuja produção é estudada na antologia crítica Literatura e afro-descendência no Brasil (2011). É coautor de Origens da presença negra em Guarulhos (2013) e coautor e organizador de Tebas: um negro arquiteto na São Paulo escravocrata (2018). Especialista em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular pela UNIFESP, e mestrando no Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da FFLCH/USP, é fundador e coordenador geral do Instituto Tebas de Educação e Cultura.
Abílio é coordenador-geral do Instituto Tebas. Foi mestre de cerimônia do evento e encabeçou a equipe de produção executiva.
RITA TELES é coordenadora de relações institucionais do Instituto Tebas e vice-presidente do Sated (sindicato de artistas e técnicos de espetáculos de SP). É atriz, produtora cultural de artes negras, arte educadora e artivista. Formada em Ciências Contábeis e em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas pela Universidade São Judas Tadeu. É fundadora da Núcleo Coletivo das Artes Produções. Idealizadora, cofundadora, pesquisadora e atriz da “Cia Colhendo Contos e Diáspora Negra” desde 2016. Compõe a plataforma Afrikanse como cocriadora e produtora desde 2017. Pesquisadora-intérprete e produtora no bando Macuas Cia Cênica.
Rita é coordenadora de relações institucionais do Instituto Tebas. Foi mestre de cerimônia do evento, fez a coordenação de produção e compôs a equipe de produção executiva.
VANESSA CORRÊA, é mestre em Arquitetura e Urbanismo e cursa o doutorado na mesma área na FAUUSP. Coordenou, no Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) a implementação de duas importantes políticas de memória democráticas: a Jornada do Patrimônio e o Inventário Memória Paulistana, que identifica com placas azuis lugares de memória da cidade de São Paulo. Escreveu por sete anos sobre urbanismo e patrimônio cultural na Folha de S.Paulo.
Vanessa é coordenadora de gestão do Instituto Tebas. Fez a coordenação de comunicação e registro do evento, e compôs a equipe de produção executiva.
Ficha Técnica
Idealização: Instituto Tebas de Educação e Cultura
Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sesc São Paulo, Instituto Tebas e Instituto CPBrazil
Parceria institucional: Centro Universitário Maria Antônia
Apoio: IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo), Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), Geledés – Instituto da Mulher Negra
Produção: Núcleo Coletivo das Artes Produções e Instituto CPBrazil
Produção Executiva: Abílio Ferreira, Rita Teles e Vanessa Correa
Apresentação: Abilio Ferreira e Rita Teles
Assistente de Produção: Rafaela Araújo e Jaque Rosa
Técnica de Som: Jess
Iluminação e Operação: Marcelo Dalourze
Projeto Visual: Danilo de Paulo
Comunicação Redes Sociais: Elo Negro Afrocomunicação
Site: Beatriz Oliveira
Equipe Audiovisual: RafaEu DumDum, Mirrah da Silva, João Prehto, Caio Tupã
Registro Fotográfico: Mariana Ser
Intérprete de Libras: Cristiane Mendes Pereira, José Anderson da Silva Souza, Maiara Rocha, Wesley Lins Neves Real, Patrick Santos

